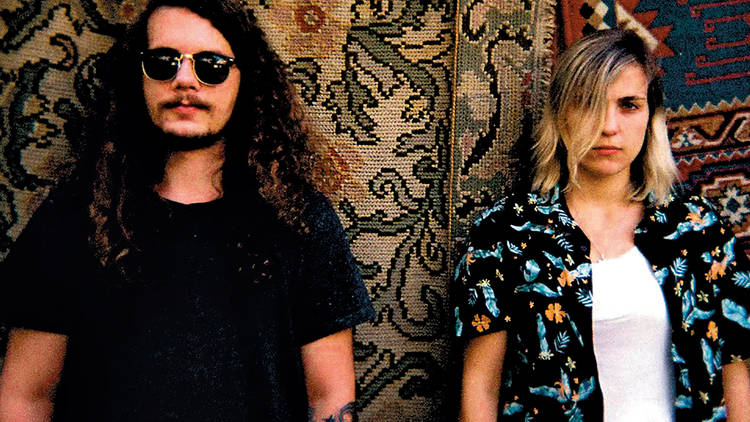O álbum é inspirado na “trilogia de Berlim” de David Bowie, os discos gravados entre 1977 e 1979 em colaboração com Brian Eno e Tony Visconti. “Aquilo estava tudo cheio de ambientes, atmosferas e maquinetas, essa trilogia ainda hoje soa incrível. O nosso trabalho neste disco foi pegar num rock'n'roll mais directo e depois trabalhar com o Miguel Nicolau [Memória de Peixe], que acabou por ser o meu Brian Eno e Tony Visconti ao mesmo tempo. Foi um trabalho intenso e bom. Hoje em dia praticamente não se vendem discos, o que é pena, mas gosto muito de trabalhar nisto. Para aquela parte de vender o peixe é que já não tenho muito jeito. [risos]”
Drafty Moon é um JP Simões em excelente forma, com muitas matizes emocionais enquanto autor, músico e intérprete. A nível sónico, há um trabalho de sonoplastia que traz mais beleza a estas canções, por entre as outonais tonalidades das guitarras, que parecem pertencer a outra dimensão. “Foi feito com corpo e alma, foram dois anos aqui às voltas. A base foi quase sempre feita por mim, a guitarra e voz. Depois o Miguel ficava sozinho com as músicas – durante várias horas seguidas, aparecia com umas olheiras até aos joelhos – e aquilo estava noutro mundo. Houve muita minúcia, ele está sempre a investir em bancos de sons, vai buscar coisas incríveis. Quando se ouve bem, nota-se essa profusão de cores e de ambientes.”
O disco, que vê a luz do dia a 22 de Outubro, começou a ser escrito em 2019, quando o mundo já era um lugar estranho. “Foi um disco que nasceu de situações como ir à rua pôr o lixo e olhar para o que tinha no saco e começar a entrar numa ansiedade tremenda a multiplicar aquilo por sete mil milhões [de pessoas no planeta]. A questão dos movimentos ecologistas, o estado de ruptura em que nos encontramos, a corrupção que há no mundo, estas decadências bizarras que vão cativando o ódio nas pessoas, as câmaras de eco que levam as pessoas a votar em Trump ou Bolsonaro. Tudo isso andava a moer-me a cabeça, comecei a dar muita atenção às notícias e de repente tudo me criava ansiedade. O disco começou aí e agora estamos a voltar ao que passávamos antes. Esta descompressão já está a criar desequilíbrios, mais violência, mais tensão e impaciência em relação a tudo, as pessoas ficaram ali muito tempo presas e tensas.”
O disco suga essa energia toda, essa miscelânea de sentimentos e preocupações. Canções como “Bad For Business” ou “There's Something About Tomorrow” são exorcismos da tensão que foi sentindo. “Como sou assim um pouco neurótico, a princípio achei que finalmente o mundo estava todo na minha frequência de onda. Paranóico, com o medo da morte. Nunca tinha sentido o mundo humano, os terráqueos tão juntos. Infelizmente não foi à volta de uma coisa boa, mas senti uma comunhão como nunca tinha sentido no meu planeta, com os meus semelhantes. Mas depois tudo transformou-se numa lengalenga aterradora. Tive covid-19 e o que fiz foi ver séries e desligar, porque se ligasse ao pânico geral, a esse ruído de fundo intenso, aos números diários, aos relatórios, morte, morte, morte... É tanta campanha de medo. Fiquei bem, felizmente, mas sei que muita gente não ficou. Consegui não gastar tanto dinheiro porque costumava jantar fora e estar com os amigos, e pagar-lhes mais uma garrafa de vinho – mas na verdade sou eu que a acabo por beber toda...”
“Quando estávamos todos presos em casa, havia algumas ideias meio new age, de nos sentirmos todos no mesmo barco e estarmos unidos pelo combate a uma mesma coisa, tipo Guerra dos Mundos. Mas pá, o que é a vida das pessoas? Não é um montão de habitantes no planeta que são mais ou menos trabalhados pela estatística, não. São vidas individuais cheias de ansiedades e tensões e necessidades. E, caramba, às vezes penso que devia era tomar um comprimido para dormir e não pensar tanto nestas coisas, porque eu não posso fazer nada. Especulo, falo, mas que soluções é que eu tenho? Não sei. Não há um comprimido mágico para acabar com a corrupção e a violência. O discurso do ódio vale muito dinheiro porque consegue congregar muita gente com aquela ansiedade de solução final. Quanto mais complicado está o mundo, mais as pessoas o tentam simplificar, e essa simplificação muitas vezes é perigosa. Não esquecer como é que o chanceler do bigodinho apareceu na Alemanha... Aquilo deve ter dado jeito a alguém, especialmente à indústria da guerra.”
“Depois vem um gajo tipo borboleta vociferar umas indignações numas músicas meio punk-rock e é assim a vida, acho que não é mais nem menos que isso.” Mas alguém tem que o fazer, JP Simões. Não podemos ficar calados. “Claro, claro. Eu tento fazer coisas que gosto de ouvir, é o princípio básico. Depois tento dizer coisas que poderia subdividir entre Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, coisas que um poderia dizer ao outro e vice-versa. Mas de resto não sinto que a música hoje tenha a verdadeira força social que teve. Existem músicos com espírito aberto e uma inteligência fantástica e generosa, a própria indústria é que transformou a música numa espécie de papel de parede. Dou por mim a sentir uma profunda irrelevância, mas pronto, faço a música que gosto, isso é verdade.”
Estes dois anos, com confinamentos pelo meio, deram-lhe tempo para gravar dois discos. O próximo deverá sair na Primavera, também como Bloom, mas totalmente diferente deste. “São canções de confinamento, canções simples, de guitarra e voz. É um disco que tem aquele lado agridoce de chegar a Março de 2020 e os grilos estarem a cantar às duas da tarde, que é uma coisa muito estranha, e o mundo parou, o céu está mais azul, o mar está mais turquesa, há uma sensação de paz no ar e de repente o medo. Fui fazendo canções à volta desse feeling. Estive a ler uma biografia do Leonard Cohen e então estive um bocado under the influence naquela toada de simplificar as melodias ao máximo e contar histórias simples. Tenho canções que são recordações da infância e da adolescência, da alvorada da vida social e sexual. São pequenas coisas assim.”
Se podia assinar estes discos com o seu nome próprio? Nem por isso. “São compartimentos diferentes. Bloom dá-me gozo, liberta de um certo peso pessoal. Na verdade, a minha carreira – se é que isto se pode chamar carreira – é uma confusão, sempre com gente diferente, e depois gente que já morreu, são coisas irrepetíveis. Os discos foram feitos quase nunca com as mesmas pessoas, seguramente nunca com o mesmo estilo. Não sou daquelas pessoas que vá tocar uma música de um disco dos anos 90 e depois outra de 2016, não faz muito sentido. As coisas tiveram o seu tempo e não tenho vontade de repetir. Bloom aconteceu como uma espécie de segunda personalidade libertadora. Mas um dia destes recupero o JP Simões, tenho vontade de escrever um disco em português.” ■
23 de Outubro: Coimbra, Teatro Académico de Gil Vicente. Sáb 19.00. 15€